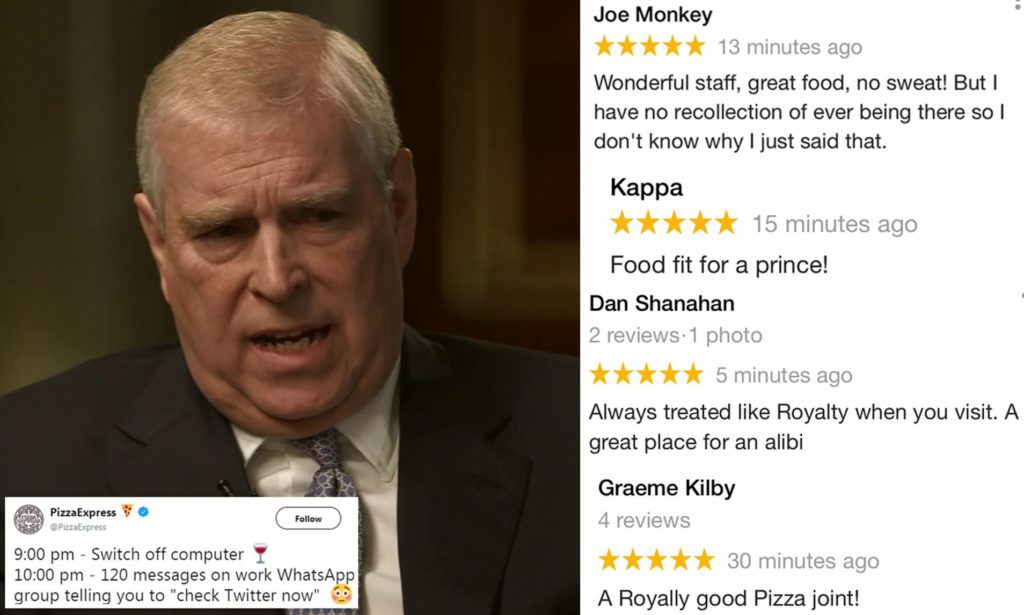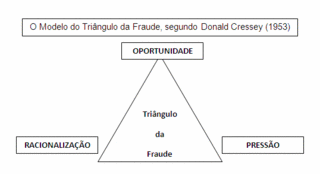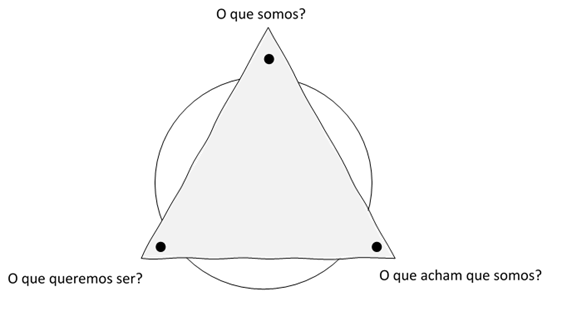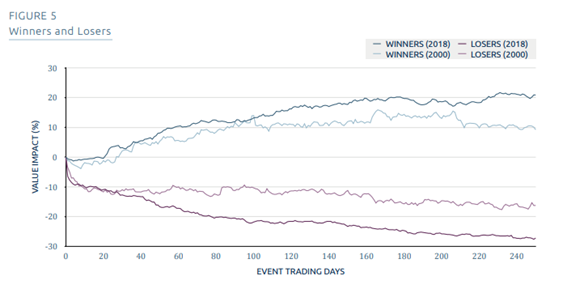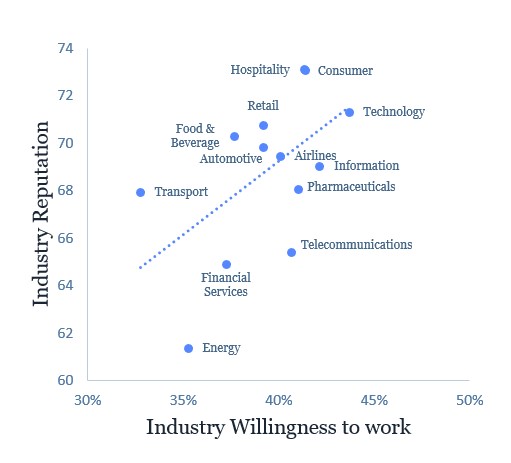Teletrabalho: de tendência a necessidade
No final de 2019, Portugal tinha 120.000 trabalhadores em regime de home office, mais 70% do que em 2015. Hoje, serão muitos mais. Não por tendência, mas por necessidade. A pandemia do coronavírus alastrou-se pelo mundo, ignorando fronteiras ou nacionalidades e ilustrando, na perfeição, uma das consequências de viver numa aldeia global.
Numa tentativa de conter a propagação do surto, o trabalho remoto tem-se massificado. Não é, assim, surpreendente que as ações em bolsa de empresas com soluções online para o teletrabalho como o Zoom (para videoconferências) ou o Slack (comunicação entre equipas) estejam a crescer vertiginosamente. O resto da bolsa pinta-se de vermelho, antecipando um futuro complicado para a economia mundial.
Um período difícil para a humanidade é, por força das infelizes circunstâncias, o momento ideal para mostrar de que matéria são feitas as empresas e de que forma podem contribuir para a sociedade. Manter o foco na intersecção entre as necessidades sociais agudas e as capacidades específicas da sua empresa é, por outras palavras, viver o seu propósito.
Enquanto a Microsoft e a Google disponibilizam gratuitamente as suas ferramentas de trabalho online, a Meo, a NOS e a Vodafone decidem oferecer internet e canais aos clientes, de forma a “facilitar o cumprimento pelos cidadãos das medidas de prevenção e controlo de infeção pelo Covid-19”, dizem as operadoras. No combate à disseminação do vírus, são várias as empresas que limitam reuniões e cancelam as viagens internacionais dos seus colaboradores. As emissoras televisivas não ficam indiferentes e tomam medidas. Os meios de comunicação juntam-se ao movimento. As iniciativas crescem em proporção à desgraça: a criatividade tornou-se viral, mesmo sem sair de casa.
Ainda que o surto do coronavírus tenha sido, até agora, uma sucessão de inconvenientes, tem também representado um momento emocionante para os fãs do trabalho remoto. Na opinião dos fiéis seguidores do método, os trabalhadores em quarentena estão finalmente a vislumbrar o glorioso futuro sem escritórios.
A verdade é que uma mão cheia de evidências comprova que trabalhar de casa é sinal de maior produtividade. Colaboradores mais felizes, mais equilibrados e menos ansiosos são o espelho do movimento do teletrabalho. E a somar às vantagens, uma redução da pegada ecológica, menos problemas de mobilidade e a solução para a crise de preços nas habitações. Os benefícios são muitos, não só para a qualidade de vida do colaborador, como para a sustentabilidade da empresa e do planeta.
Não há bela sem senão
Mas, se por um lado os números comprovam os ganhos na produtividade, trabalhar em isolamento rapidamente se torna solitário.
Matt Mullenweg, CEO da Automatic, a empresa de software que detém a plataforma WordPress, admite que “não foi assim que [imaginou] a revolução do trabalho” e descreve este período como a experiência de trabalho remoto que ninguém pediu.
À lista de desvantagens de trabalhar em casa juntam-se a falta de foco, a dispersão das equipas e as falhas na comunicação. A rapidez com que o teletrabalho se instalou nas empresas revelou, simultaneamente, outras fragilidades: para tentar sobreviver a um vírus, as empresas menos preparadas expõem-se a outros perigos. Com efeito, o trabalho remoto deve ser acompanhado por protocolos e procedimentos de segurança muito fortes, sob pena de não se sobreviver a uma infeção digital.
Não morrer do mal, nem da cura
Depois desta experiência coletiva, dificilmente voltaremos à definição de trabalho que nos era mais familiar. E se para muitos os escritórios improvisados eram já uma realidade, para outros é novidade.
O teletrabalho forçado pode conquistar muitos principiantes, mas as águas têm de ser navegadas com cautela. Manter rotinas semelhantes, planear tarefas e fazer pausas são apenas alguns dos muitos conselhos dados aos colaboradores remotos.
Para os líderes, as sugestões passam por criar uma equipa de gestão de crise dedicada, sistematizar a informação (para manter todos no mesmo barco) e até redefinir e clarificar cargos e objetivos de todos os membros da equipa.
Não esquecer ainda que as empresas não existem num vácuo. É fundamental adaptar a comunicação ao contexto atual, exaltando assim o seu propósito e as suas políticas de responsabilidade social.
Por último, vale recordar que foi durante um surto de peste negra que Isaac Newton se viu obrigado a ficar enclausurado em casa durante meses. Nesse período de quarentena, o físico inventou o cálculo e deparou-se com os princípios daquilo que um dia seria conhecido como a física newtoniana.
Read More